
“Afiadas, as mulheres que fizeram da opinião um arte”, livro da jornalista e crítica canadense Michelle Dean, editado pela Todavia, é gostoso de ser ler da primeira à ultima linha. Descrevendo a vida e principalmente a obra de dez escritoras, críticas e jornalistas do século XX que atuaram em sua maioria no meio literário dos Estados Unidos, com destaque para Nova York, Dean quis mostrar que não só os homens se ressaltaram na literatura norte-americana.
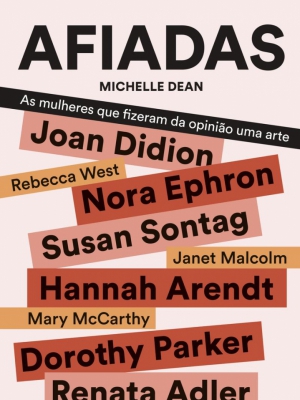
Eis o que ela diz em seu prefácio: “A evolução da literatura norte-americana é comumente contada com base em seus romancistas homens: os Hemingways, os Fitzgeralds, os Roths, os Bellows e os Salingers. Há certa sensação, de acordo com essa versão da história, de que pouca coisa feita por mulheres nessas diferentes épocas merece de fato ser lembrada. Mas minhas pesquisas mostram algo diferente.
Os homens podem ter sido superiores às mulheres numérica e demograficamente. Mas na questão essencial, isto é, a de produzir uma obra que mereça ser lembrada, elas estão em absoluto pé de igualdade com eles – e muitas vezes acima deles”.
Para provar sua tese, Michelle Dean debruçou-se sobre o trabalho das escritoras Dorothy Parker, Rebecca West, Hannah Arendt, Mary McCarthy, Susan Sontag, Paulina Kael, Nora Ephron, Renata Adler, Joan Didion e Janet Malcolm. Com exceção de West, inglesa, Arendt, alemã, Malcolm, nascida em Praga, e Adler, filha de refugiados alemães que nasceu em Milão, as demais eram americanas.
O livro foi escrito com base em biografias e em pesquisa sobre os textos escritos por essas autoras em jornais, revistas e livros. Dean também leu cartas e fez algumas entrevistas. O resultado foi um painel riquíssimo, encadeado e de tirar o fôlego.
Um fato interessante é que, apesar de terem trabalhado incessantemente, tendo autonomia financeira, as protagonistas de Dean em sua maioria não abraçaram as teses feministas. Muito pelo contrário. Adler optou por parar de trabalhar sete anos, para cuidar dos filhos, e Hannah Arendt, que não teve filho, chegava a ridicularizar a causa feminista. Mesmo assim, por suas vidas e obras elas se tornaram ícones do feminismo. Michelle Dean fala das famílias, dos casamentos e divórcios, ou seja, da vida pessoal de cada uma, mas o que quis retratar mesmo foi a vida intelectual. A capacidade que tiveram de ser lidas e ouvidas, criando polêmicas que gerariam grandes controvérsias e até mesmo prolongadas ações judiciais.
De Dorothy Parker a Janet Malcolm
Ela começa com Dorothy Parker e termina com Janet Malcolm. Sempre contando como as dez autoras chegaram ao apogeu literário, usando suas “escritas afiadas”, ou seja, suas visões agudamente críticas como jornalistas, críticas de cinema, literatura e teatro ou em seus livros. Dorothy, por exemplo, começou na “Vogue”, em 1914, e depois passou para a “Vanity Fair”. Foi quando estava na “Vanity Fair” que participou da famosa Round Table do Hotel Algonquin, em Midtown Manhattan, com seus amigos Robert Benchley e Robert Sherwood. Constituíam um trio inseparável e turbulento, que faria história.
Foi na “Vanity Fair” que ela criou um imenso problema para seu editor ao criticar uma peça de Somerset Maugham, “Caesar’s wife”, pois falou mal da atriz Billie Burke, que era a esposa do lendário produtor da Broadway Ziegfeld. Seria demitida. Mas a carreira continuou. Escreveria para uma recém-criada “New Yorker”. Falaria mal de “Este lado do paraíso” de Scott Fitzgerald, e se desentenderia com Hemingway. Em 1927, lançaria um livro de poemas, “Enough Rope”, best-seller que a transformaria numa escritora extremamente popular.
A segunda jornalista e escritora abordada por Michelle Dean foi a inglesa Rebecca West, que teve um filho com H.G. Wells. Seu nome verdadeiro era Cecily Isabel Fairfield. Trocou por Rebecca West, personagem de uma peça de Ibsen. Simpatizante das sufragistas, escreveu, entre outras publicações, na “Freewoman” e na “New Republic”. Ficou famosa por uma análise crítica da obra do escritor Henry James, na qual disse considerar Isabel, a heroína de “Portrait of a Lady” (Retrato de uma senhora), “uma paspalhona”. Esteve nos EUA dando conferências; foi amiga de Anaïs Nin; escreveu um livro de 1.200 páginas sobre uma viagem à Iugoslávia e teve um relacionamento estável com o marido Henry Andrews.
Mais velha, ressentiu-se com o desinteresse em relação à sua pessoa. A um amigo, escreveu o seguinte: “Se você é uma escritora, é preciso fazer certas coisas – primeiro, não ser boa demais; segundo, morrer jovem, vantagem que Katherine Mansfield tem em relação a todas nós; terceiro, cometer suicídio, como Virginia Woolf. Simplesmente escrever e escrever bem é algo que não pode ser perdoado”.
Michelle Dean segue com Hannah Arendt. As informações a respeito de Arendt são mais conhecidas, já que sua obra e biografia voltaram a estar em voga nos últimos tempos. O livro analisará a repercussão de “Origens do totalitarismo”, “Eichmann em Jerusalém” e o relacionamento de Arendt com Heidegger. Também falará de seu casamento com o segundo marido Heinrich Blücher e da grande amizade entre ela e a escritora Mary McCarthy, autora de “O grupo”. Apesar de serem bem diferentes, as duas formaram uma dupla indissociável, apoiando-se quando atacadas.
Há sempre o que aprender com Dean. Menciona a biografia que Arendt fez de Rael Varnhagem, a amizade com Walter Benjamin em Paris, o duro início em Nova York, quando ela, a mãe e o marido moraram num quarto duplo de uma pensão e Heinrich inicialmente trabalhou numa fábrica. Enquanto isso, Arendt dava aulas de inglês em Massachusetts. Mas logo, devido à força de seu texto, começaria a se fazer conhecida, tendo iniciado com um trabalho sobre os refugiados na América, “We refugees”, que foi publicado no “Memorah Journal”. Neste ensaio, ela renega a palavra refugiado, da qual não gostava, e convoca os judeus a se comportarem como “párias conscientes”. Tinha dificuldades em escrever em inglês, mas já mostrava seu dom para a polêmica. Teria uma participação crucial na “Partisan Review”, revista que reunia ex-comunistas e críticos. Já havia começado a ter algumas ideias novas que iriam resultar no volumoso texto de “Origens do totalitarismo”, obra magistral na qual analisa o mundo totalitário do fascismo e do comunismo.
Quem leu “Origens” e ficou impressionada foi Mary McCarthy. Foi assim que as duas se aproximaram, após terem se desentendido numa festa em que Hannah Arendt achara que Mary fizera um comentário simpático a Hitler. Também trabalhando na redação da “Partisan Review”, Mary Mc Carthy escreveu para Arendt: “Li seu volume totalmente tomada por ele nas duas últimas semanas, na banheira, no carro, na fila da mercearia. Parece-me uma obra extraordinária, um avanço de pelo menos uma década no pensamento humano, além de cativante e fascinante como um romance”. Mary propôs que as duas almoçassem juntas.
De acordo com Dean, McCarthy nunca teve um equilíbrio muito perfeito. Sua infância foi difícil. Perdeu os pais cedo e foi muito maltratada por uma tia-avó idosa. Logo iria descobrir seu pendor para a literatura, Escreveu “Memórias de uma menina católica”, no qual narra sua perda de fé. Sua primeira resenha, na qual contrapunha desfavoravelmente “Admirável mundo novo”, de Huxley, ao hoje esquecido “Public Faces”, de Harold Nicholson, foi publicada numa pequena revista chamada “Con Spirito”. Nela já demonstrava, como ela mesma observaria, sua “perversidade característica”. Participante do comitê de defesa de Trotsky, fez críticas de teatro na “Partisan Review” de forma corrosiva.
Inquieta sexualmente, teve vários homens. Quando estava vivendo com o companheiro que a levou para a “Partisan”, Philip Rahv, ela o deixaria para se casar com Edmond Wilson, crítico literário, autor de “O castelo de Axel”. Foi um casamento infeliz, que só teve duas consequências boas: o filho Reuel e a passagem de McCarthy para a ficção, Escreveria “Dize-me com quem andas”, que faria muito sucesso; “O oásis”, uma sátira política sobre o meio intelectual de esquerda de Nova York, e “O grupo”, narrativa sobre oito mulheres que foi publicada em 1963 e viraria filme.
Neste ano de 1963, uma nova escritora entraria em cena, Susan Sontag, com seu livro “O benfeitor”. Não obteve sucesso comercial, mas foi elogiado por Hannah Arendt.
Uma grande ensaísta
Criada em Los Angeles, tendo frequentado a North Holywood High School, Sontag seria uma grande leitora quando adolescente. Seu padrasto, Nathan Sontag, dizia que, se continuasse a ler tanto, nunca encontraria um marido. Mas ela não só continuou a ler como a estudar. Chegou ao campus de Berkeley, quando estava com dezesseis anos, e lá descobriu sua bissexualidade, tendo se envolvido com mulheres e homens. Mas tarde, iria para Chicago, onde conheceria Philip Rieff, sociólogo onze anos mais velho, com quem se casaria. Os dois conversariam muito, ao longo de sete anos, mas Susan começaria a se sentir presa no casamento. Quando o marido foi para Boston, para trabalhar na Universidade de Brandeis, ela começou a fazer um mestrado de Filosofia na Universidade de Connecticut. Prosseguiu com um doutorado de Filosofia na Universidade Harvard e, em 1952, deu à luz ao filho David. Em 1955, ganhou uma bolsa para estudar em Oxford, para onde foi sozinha, deixando o filho com os avós. Após uma estada na Sorbonne, pediu o divórcio a Rieff, levando David com ela para Nova York.
E aí começa sua vida literária. Escreve “O benfeitor”, colabora para a “Partisan Review”, publica seu primeiro grande sucesso de crítica, “Notas sobre o camp”, e passa a escrever para a “New York Times Book Review”. “Notas sobre o camp” foi uma avaliação da cultura pop. De acordo com Michelle Dean, “todos os fenômenos que Sontag lista como ‘parte do cânone do camp’ são itens altamente pop: King Kong, quadrinhos de Flash Gordon, etc. O espírito do ensaio era essencialmente democrático, liberando as pessoas de ter de classificar seus gostos como bons ou ruins”.
Mais madura, autora de vários outros ensaios e romances, Sontag rejeitaria “Notas sobre o camp”, porque a vinculava à cultura popular. E se incomodaria com a fama, que começara a se consolidar com o texto “Contra a interpretação”: “A fama é como uma cauda...te segue de forma inclemente, desajeitada, inútil, sem relação com sua personalidade”. Fato é que no final dos anos 60 a pessoa pública de Susan Sontag tinha menos a ver com sua obra do que com sua imagem, o que a incomodava. Tudo o que fazia só a tornava mais célebre ainda, como a viagem ao Vietnã ou o livro que escreveria sobre o câncer, intitulado “Doença como metáfora”.
Impossível, nesta resenha, falar ainda sobre a pena demolidora da crítica de cinema Paulina Kael, que não gostou nem mesmo de “Cidadão Kane”; sobre a jornalista e escritora Joan Didion, que também foi crítica de cinema e com seu marido John Gregory Dunne escreveu textos para o “Saturday Evening Post”, ou sobre Nora Ephron, famosa entre outras coisas por ter sido casada com o jornalista Carl Bernstein, sobre o qual escreveria um livro devastador que seria transformado em filme. Também me vejo obrigada a deixar de fora as peripécias de Renata Adler e as de Janet Malcolm. Mas podem ter certeza de que, como as demais, tiveram penas afiadas e vidas interessantíssimas. O importante é comprar o livro de Michelle Dean e lê-lo, por ser muito bem escrito. E por demonstrar, em suas 400 páginas, que as mulheres estão na Terra não só para gerar filhos, mas também para pensar e criar. Sem que para isso tenham que ter “uma cabeça de homem”.
Cecilia Costa*
*Jornalista e escritora
