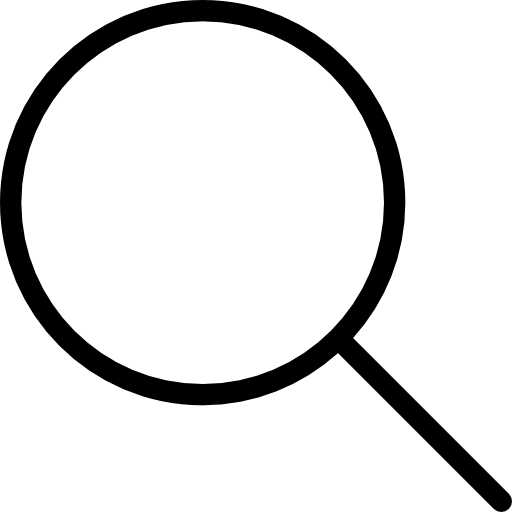Por Coisas da Política
WILSON CID - [email protected]
COISAS DA POLÍTICA
Tempo de terrorismo
Publicado em 17/10/2023 às 08:57
Seria demais, até incompreensível, pretender, diante da ligeira passagem do Brasil pela presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, por iniciativa nossa, fosse possível gerar o desarmamento de Israel e Hamas, que estão em guerra. Sobrepõem-se duas razões para que não nos seja cobrada tal façanha, reconhecida a limitação de nosso prestígio no cenário dos maiorais. A primeira é que naquele centro de decisões as primeiras e últimas palavras quem dá são as cinco nações mais poderosas – Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. E, se nunca desistimos de sonhar com uma cadeira permanente no Conselho, devemos saber que, antes de nós, o espaço caberá à Índia. Somos ali, portanto, presença respeitada, mas pouco mais que simbólica e passageira; tanto que em duas semanas de esforços e boa vontade, não logramos elaborar um documento incisivo para que cessem as hostilidades no Oriente, nem que fosse apenas em nome de um corredor humanitário seguro, por onde escapassem estrangeiros e civis locais.
A segunda razão, que também pesa, é que carecemos de expressão para influir em negociações pacificadoras no conflito, porque o governo brasileiro tem manifesta simpatia pelo Hamas, isentando-o da pecha universal do terrorismo, sob alegação de que só a ONU poderia defini-lo como tal. Cabe lembrar que a dificuldade de interlocução não teria sido menor na gestão do presidente Bolsonaro, que foi ardente admirador de Israel. Missões intermediadoras, portanto, escapam de nossa alçada.
Nada impede, contudo, que o país desempenhe papel mais saliente na busca de paz e tolerância naquela região, a começar pelo fato de que temos histórico reconhecimento da autonomia de Israel e Palestina como estados legítimos. Sempre lembrado o desempenho brasileiro, em 1947, para a partilha que produziu os dois espaços hoje e sempre mergulhados em sangue.
A responsabilidade histórica para que os judeus retornassem a um lar, mesmo que disso sempre resultassem guerras intermináveis, e sob risco permanente, como agora, de alastrar-se pelo Oriente, é mais que suficiente para não permitir ao Brasil distanciar-se das preocupações que hoje tomam conta do mundo inteiro.
Mas como fazer algo, se são insuficientes nossas forças para conter beligerâncias? O caminho, inspirado na índole nacional, é contribuir para que se tornem entes total e diametralmente opostos o estado Palestino e o terrorismo. Muito diferentes. Começar por separar o joio do trigo, antigo ideal que guarda a lição bíblica do capítulo 13 de Mateus; lição indistintamente reconhecida nas culturas árabe e judaica. Pode parecer tarefa de difícil alcance, mas talvez nem tanto, porque há evidências de que a incursão do braço terrorista, seja na Faixa de Gasa, no sul do Líbano ou na Cisjordânia, não conta com significativa parcela dos cidadãos comuns, cujo anseio é a mesma paz que move o espírito de qualquer povo. Os palestinos comuns, que trabalham e cuidam de suas famílias, sonham com isso, merecem isso. Só se fossem alucinados para admitir o terror e a prática da violência como instrumento de vida.
(É estranho que parcelas da esquerda, tanto a local como a estrangeira, manifestem apoio ao braço armado do Hamas, sem tomar em devida conta que leva a nada a adoção da violência, como a que se viu no ataque de surpresa a uma boate, com morte e sequestros de jovens, desencadeando a atual crise. Estranho porque esquecem o ídolo Che Guevara, para quem, em aula sobre guerrilha, garantiu que “o terrorismo é uma arma negativa, que não produz em nenhum caso os efeitos desejados, podendo até induzir o povo a uma atitude contrária a determinado movimento revolucionário”).
O terrorismo, venha de onde vier, de árabes ou judeus, será sempre uma forma de ditadura.
Quando, a partir da década de 70, o Brasil começou a ensaiar ações de violência urbana, Carlos Drummond de Andrade dizia, neste JB, que o terrorismo transforma a pessoa num maniqueu cego; cego “porque ao mal dá o nome de bem, e ao bem dá o nome de mal. A consequência é o terror íntimo que se desdobra no terror externo. O projeto do terrorista é demolir o estabelecimento cheio de erros para instituir outro estabelecimento que seja o erro total, que é a utopia com alicerce no ódio e no sangue. De preferência o sangue dos inocentes”.
Meio século depois, mudou quase nada.