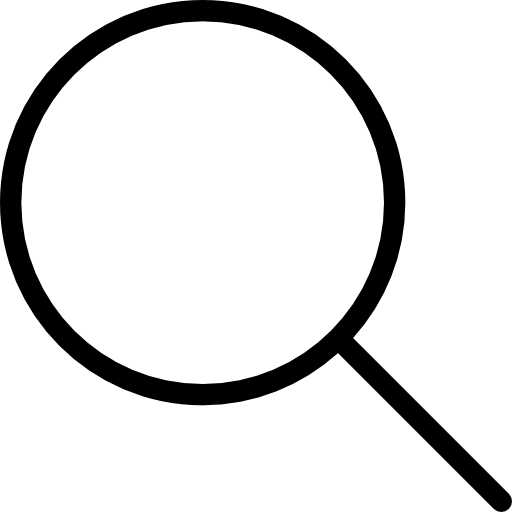ARTIGOS
Quando a força substitui o direito: Venezuela, precedentes perigosos e os riscos para o Brasil
Por JEAN PAUL PRATES
Publicado em 03/01/2026 às 17:22
Alterado em 03/01/2026 às 17:22
A captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por forças dos Estados Unidos, anunciada com rapidez surpreendente e executada dentro do território venezuelano, marca um daqueles momentos raros em que a retórica do direito internacional colide frontalmente com a realidade da política de poder.
Independentemente de juízos sobre o governo venezuelano, trata-se de um fato grave: uma potência militar realizou uma operação direta, retirando um chefe de Estado em exercício de seu país, sem autorização multilateral conhecida e fora de um cenário clássico de guerra entre Estados. Isso exige análise serena, histórica e estratégica.
A lei que de fato vigora
Há algum tempo afirmamos, com crescente convicção, que a única lei internacional plenamente vigente é a do medo da represália. As normas existem, os tratados estão escritos, as instituições funcionam, mas sua eficácia depende essencialmente da correlação de forças. O direito internacional, tal como praticado, é aplicado por conveniência, não por cogência.
O episódio venezuelano apenas torna explícito aquilo que costuma ficar implícito: quando o custo político, militar ou econômico da violação é considerado baixo, a norma cede lugar à força.
Métodos importam mais que simpatias
Nicolás Maduro não é uma figura consensual, nem mesmo entre setores da esquerda latino-americana. Há críticas legítimas ao seu governo, à condução econômica, às instituições e ao processo político venezuelano. Nada disso, porém, autoriza automaticamente uma intervenção militar externa.
Criticar os métodos não significa defender governos. Significa defender princípios mínimos de previsibilidade internacional. Quando esses princípios são rompidos, todos os países médios e pequenos passam a viver em ambiente de maior insegurança.
As acusações de narcotráfico: o que existe e o que não existe
Os Estados Unidos acusam Maduro de envolvimento com narcotráfico e de liderar um suposto “narco-Estado”. Essas acusações têm origem em denúncias formuladas por autoridades norte-americanas, com base em investigações domésticas e em alegadas conexões com grupos armados colombianos.
O ponto central, contudo, é jurídico e político: acusação não é sentença. E, mesmo que houvesse condenação judicial em um país, isso não confere automaticamente o direito de capturar um chefe de Estado estrangeiro por meio de ação militar unilateral. Crimes transnacionais são, em regra, tratados por cooperação internacional, extradição, sanções ou tribunais competentes, não por bombardeios e operações de sequestro.
Iraque como alerta
O precedente histórico é conhecido e deveria ter sido suficiente para impor cautela. Em 2003, os Estados Unidos e aliados invadiram o Iraque com base na alegação de que o país possuía armas de destruição em massa. As provas nunca apareceram. O resultado foi a destruição do Estado iraquiano, uma guerra civil prolongada, milhões de mortos e deslocados e instabilidade regional que persiste até hoje.
A lição do Iraque não é sobre aquele governo específico, mas sobre o método: quando narrativas de segurança são usadas como justificativa pronta para ação militar, a checagem vem depois, e o custo é pago por populações inteiras e pela ordem internacional.
O risco da normalização
Ao capturar um chefe de Estado sem mandato multilateral, cria-se um precedente que vai muito além da Venezuela. A mensagem implícita é clara: se uma potência julgar que há razões suficientes, pode agir sozinha.
Se a intervenção direta e a remoção de lideranças passam a ser vistas como instrumentos aceitáveis, abre-se espaço para que outras potências adotem lógica semelhante em seus próprios tabuleiros estratégicos. O caso de Taiwan surge imediatamente como exemplo sensível.
Não se trata de comparar regimes, causas ou contextos. Trata-se de perceber que a erosão das regras aumenta o risco de conflitos em cadeia. Quando a regra deixa de ser o direito e passa a ser a força, o sistema internacional entra em zona de instabilidade permanente.
E o Brasil, onde fica?
Para o Brasil, a posição mais responsável é clara. Não cabe defender governos estrangeiros nem endossar intervenções. Cabe defender métodos institucionais, o multilateralismo e a solução pacífica de controvérsias.
Mesmo com a Venezuela suspensa do Mercosul, o Brasil tem interesses diretos na estabilidade regional: fronteiras, fluxos migratórios, comércio, energia e segurança no Atlântico Sul. A normalização da força como instrumento político não serve a nenhum desses interesses.
O Brasil deve reafirmar sua tradição diplomática de não intervenção, exigir esclarecimentos no âmbito multilateral e trabalhar para que crises sejam tratadas com direito, não com bombas.
A intervenção na Venezuela não é um episódio isolado. É um sintoma de um mundo em que as regras estão sendo testadas, tensionadas e, em alguns casos, ignoradas. Defender princípios hoje não é idealismo. É prudência estratégica. Porque, quando a força vira regra, ninguém está realmente seguro.
________________
Jean Paul Prates é presidente do Conselho Gestor do CERNE.org.br. Mestre em Política Energética e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia e Mestre em Economia da Energia pela IFP School (Paris). Foi presidente da Petrobrás (2023–2024) e Senador da República (2019–2023).