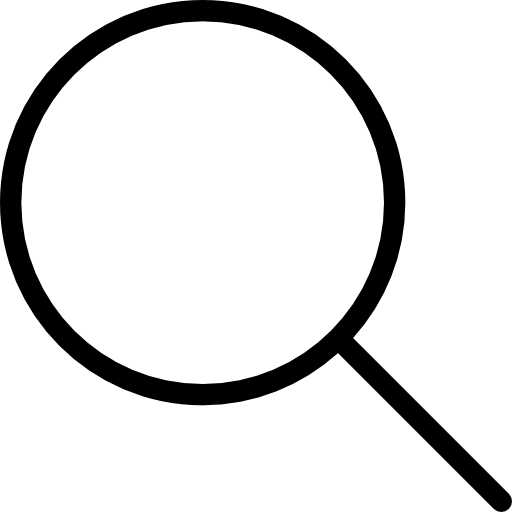O OUTRO LADO DA MOEDA
LCA prevê IPCA de 7,5% e Selic de 8% em 2021
Publicado em 11/08/2021 às 15:33
Alterado em 11/08/2021 às 18:22
 Gilberto Menezes Cortes CPDOC JB
Gilberto Menezes Cortes CPDOC JB
A LCA Consultores, em seu “Cenário” para agosto, publicado nesta 4ª feira, 11 de agosto, no Boletim Diário, chama a atenção do paradoxo entre a trajetória da política monetária do Fed e do Banco Central do Brasil: “FED vai tirar o pé do acelerador monetário enquanto Copom pisa no freio”. E o motivo é a aceleração da inflação, que subiu 0,96% em julho, chegando a 8,99% em 12 meses. Para a LCA “a inflação continua a trazer leituras desconfortáveis, com o resultado de julho da inflação oficial medida pelo IPCA mostrando nova aceleração relevante nas principais medidas de tendência inflacionária”.
“O comportamento da inflação de serviços [que subiu de 0,54% em junho para 0,59% em julho], em particular, tem nos surpreendido – e nos levou a ajustar novamente para cima a nossa projeção para a alta do IPCA em 2021, de 7% para 7,5%. A alta projetada [do IPCA] para 2022 sofreu um pequeno ajuste para cima, tendo passado de 4% para 4,1%”.
A Consultoria chama a atenção para a frase da Ata do Copom, divulgada na 3ª feira (10) “tornou-se apropriado um ciclo de elevação da taxa de juros para patamar consistente com política monetária contracionista”. A tradução da frase, levando em conta a revisão para cima nas projeções da inflação, “as estimativas de juro neutro e o conteúdo da ata do Copom”, a LCA está reavaliando para cima a curva projetada para a taxa básica de juros: “a Selic que projetamos para o final deste ano passou de 7,5% para 8% ao ano”.
Para a consultoria, “a elevação mais célere e maior da Selic tende a tornar o diferencial de juros doméstico-externo mais atrativo a investimentos estrangeiros de curto prazo, o que poderia trazer algum alívio para a taxa de câmbio”. Ainda assim, a consultoria não reduziu a curva projetada para a cotação do dólar, em função do significativo recrudescimento recente de riscos nas searas política e fiscal.
As várias dimensões do calote
A proposta de adiar o pagamento de R$ 90 bilhões em precatórios no ano eleitoral de 2022, sob o argumento de que asfixiaria o Orçamento do Tesouro não tem justificativa alguma. Muito menos negar que a protelação dos pagamentos por nove anos não configura um calote.
Há dois anos os gastos com pagamento de sentenças judiciais estão na faixa de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões. Portanto, os gastos não cresceram tanto, a ponto de surpreender o governo como se fosse a queda de um “meteoro”, como tentou fazer crer o ministro da Economia, Paulo Guedes. E a previsão destes gastos estava, conforme esclareceu a Advocacia Geral da União, prevista no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O governo está apenas arrumando pretexto para criar vácuo capaz de aumentar gastos de cunho eleitoral para tentar reanimar a murchante campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. É esse o pano de fundo da ideia de criar um fundo para pagá-los à frente, abrindo espaço para novos gastos. Ou seja, através do calote, o governo quer financiar despesa corrente com receitas temporárias e incertas (os precatórios caloteados), como o novo Bolsa Família, a ser rebatizado de Auxílio Brasil.
Renegociação ou refinanciamento?
A semântica em economia é incapaz de mudar os fatos. Lembro a renegociação da dívida externa, em 20 de dezembro de 1982, em reunião com o comitê de bancos credores no Hotel Plaza, em Nova Iorque, antes de Donald Trump comprar a rede hoteleira. Era editor de Economia do JB e fui para lá ajudar o saudoso Fritz Utzeri na cobertura do megaevento.
Fui o único dos jornalistas presentes que deu o nome de renegociação à protelação de prazos e carências para a dívida externa brasileira, uma clara derrota da política econômica do regime militar (embora o grande causador e responsável pela quebra em série de vários países fossem os Estados Unidos, que tiveram déficits fiscais gigantescos e o Fed chegou a elevar os juros a 22% ao ano em 1980, na gestão de Paul Volcker, quebrando os devedores. Tanto que o Tesouro andou refinanciando, com desconto do Plano Baker, a dívida dos países).
Durante a crise do petróleo (em 1973 houve o 1º choque) muitos países fizeram ajuste estrutural das economias reciclando petrodólares. No Brasil, para poupar importação de petróleo (só produzíamos 15% das necessidades em 1973), fizemos hidroelétricas. Trocamos por caldeiras elétricas as antes movidas a óleo diesel ou combustível. O ajuste ocorreu em 1978, quando a balança comercial voltou a ter superávit. Mas aí veio o 2º choque, dezembro de 1979, quando explodiu a guerra Irã e Iraque, e o petróleo disparou.
O juro médio estava em 6%-6,5% ao ano. Quando houve a escalada em 1979-80, os cronogramas foram para o espaço e inviabilizou o ajuste dos balanços de pagamentos. O México foi o 1º a declarar moratória, em agosto de 1982. Na reunião do Fundo Monetário Internacional, na 1ª semana de setembro, em Toronto (Canadá) ficou claro a paralisação do crédito internacional (manchete garrafal do JB, em matéria do enviado especial Armando Ourique, bolada pelo editor Paulo Henrique Amorim).
Ernane Galveas, ministro da Fazenda, trouxe a má notícia da necessidade de ir ao FMI, em 7 de setembro de 1982 ao general Figueiredo. O governo resolveu empurrar a crise com a barriga (do Delfim Neto, é claro, ministro do Planejamento). Os donos dos grandes jornais (como o JB) fizeram acordo com o governo para esconder a crise até as eleições de outubro, que escolheriam os primeiros governadores por voto direto, desde 1965, e a composição do Colégio Eleitoral (Câmara e Senado), que escolheria o sucessor do general de forma indireta.
A ordem no JB era só dar manchete em “on”, com a fonte assumindo o que dizia. E os ministros e dirigentes do Banco Central (Carlos Langoni era o presidente) preferiam falar em “off”. Galveas ia soltando pílulas (verdadeiras) pelo caminho, até anunciar o socorro do FMI, depois que a apuração foi concluída, numa reunião do BIS (o Banco Central dos bancos centrais) em novembro, na Suíça (Basiléia).
Dávamos manchetes com o México e sub-manchetes com o Brasil, em mensagens subliminares aos leitores. Ainda assim, até o dia 20 de dezembro havia a tentativa de negar o óbvio: o Brasil estava quebrado e tinha de renegociar a dívida com apoio do FMI.
Pois Paulo Henrique Amorim deu manchetaço de duas linhas em oito colunas no JB (na época, com a antiga diagramação em oito colunas) com a palavra renegociação. Eu aproveitei para fazer um rápido pingue-pongue com o Delfim no Hotel Plaza, no qual ele tentou negar a renegociação dizendo que era apenas “um refinanciamento de débitos”.
Por ironia do destino, o correspondente do “Estadão”, em Washington, Antônio Pimenta Neves, o jornalista que melhor acompanhava a renegociação da dívida, não foi. Tinha sido assaltado à mão armada com a família em sua casa, na capital americana. A pedido do então editor chefe de O Estado de S. Paulo, Miguel Jorge, PHA vendeu minha cobertura e do Fritz ao Estadão, que também deu manchete com a palavra “Renegociação”.
Soube, no dia 21 de dezembro, pelo Paulo Henrique, que o “Estadão” tinha comprado nosso material e queria mais. Aí, o Delfim Neto passou a pressionar a imprensa para insistir na semântica de fora só “o refinanciamento de débitos”. Muitos anos depois, o próprio Dr. Nascimento Brito, com quem trabalhei do fim de 1988 a maio de 2001 como editorialista do JB, escrevendo a opinião do jornal dobre assuntos de economia e, às vezes de Cidade, me disse que o Delfim chegou a pedir minha cabeça (o que o querido PHA negou de pronto).
Me diga: se você esteve no banco na pandemia para fazer uma consolidação das dívidas vencidas ou a vencer, foi “refinanciamento” ou “renegociação”?
Onde há fumaça, há negligência
Depois do mico, próprio de uma “República de Bananas”, como diria o vice-presidente Hamilton Mourão, para a tentativa de não ter eleições sem voto impresso (rejeitada na Câmara, apesar da ridícula coerção com tanques da Marinha e apoio das demais armas), que foi o desfile militar para “entregar um convite ao presidente da República, Comandante em Chefe das Forças Armadas, Jair Messias Bolsonaro, para comparecer, dia 16 de agosto, ao encerramento do treinamento anual das três armas em Formosa (GO), empanado pela densa cortina de fumaça dos blindados da Marinha, em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes (completada pela sede do Judiciário e do Legislativo (as duas casas do Congresso), não resta dúvida.
Não dá para entender como o Ministério da Defesa, com orçamentos superiores ao do Ministério da Educação, não consegue alinhar as forças armadas com garbo numa parada ou num exercício militar. Como se dizia à sorrelfa na caserna “a culpa é da Intendência”.
Vexame total na Marinha, que devia cuidar e examinar melhor seus equipamentos antes de botar tanques fumacentos nas ruas. Imagina se fosse com as corvetas ou submarinos da força de Tamandaré.