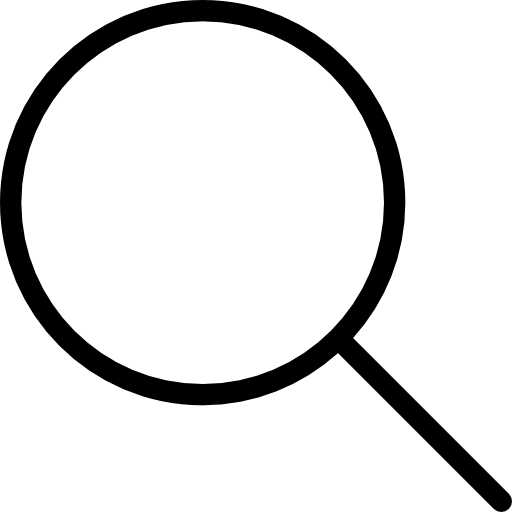ENTRE REALIDADE E FICÇÃO
Uma madrugada entre o cine Paissandu e o DOPS
Publicado em 03/02/2022 às 14:11
Alterado em 03/02/2022 às 14:11
 Álvaro Caldas JB
Álvaro Caldas JB
Vira e mexe retorno aos tempos de guerra, da vida tão cheia de ruídos e suspense dos anos ditos de chumbo, que também tiveram as suas graças. Ainda que quisesse, não teria como sepultar esse passado, pontilhado de aventuras, algumas memoráveis, paixões e obsessões desmedidas, poesia rimando quase sempre com utopia, enfrentamentos com soldados armados ou não, paisanos ou verde-oliva. Marcados por um aguerrido processo de rachas e de lutas internas, nem sempre fraternas, entre camaradas divergentes dentro dos grupos.
Desta vez quem puxa esta viagem é o meu amigo Pitota, o professor Antônio Prudente de Oliveira, um goiano que conheci na Faculdade Nacional de Filosofia nos idos de 1960, ele fazendo História e eu Jornalismo. Tempos aventureiros e românticos, pré-troca verdadeira de chumbo grosso e de embaixadores por prisioneiros, que viriam no pós AI 5. Pitota morreu há poucos dias, essa é a questão, e deixou minha geração dolorosamente mais órfã e triste. De quebra, desenterrou fantasmas da ditadura, surrealistas ou não, que teimam em permanecer insepultos.
Uma dessas memoráveis aventuras voltou embalada pela lembrança do professor Prudente.Tudo começa numa noite estrelada de março de 1967, final do verão, há exatamente 55 anos, acabo de constatar. Quatro rapazes combinam se encontrar num ponto em Ipanema, em frente à igreja na praça N. S. da Paz. Não são carolas nem pretendem virar uns chopes e paquerar as moças ali ao lado, no badalado Jangadeiros, curtindo a cara dos artistas da esquerda festiva.
Integrantes de uma tal de Dissidência Estudantil do Partidão, os quatro rapazes, desarmados, sem ficha policial e com seus documentos em ordem, receberam a tarefa de pichar os muros e fachadas de prédios no centro da cidade e Cais do Porto. Chegamos primeiro Pitota e eu. Acendi um cigarro, o goiano de Morrinhos não pitava nem fumo de rolo. Conversamos animadamente, notei que ele sabia os nomes de várias estrelas e apontou para as Três Marias. Daí a pouco chegaram o Roberto Bob Grei e o Aurélio Buarque Ferreira, dirigindo o seu Gordini.
No porta-malas do carro do Aurelinho estava embrulhada a preciosa carga dos bastões pretos, feitos em casa, uma mistura de sebo de boi e tinta preta para sapato. Nada de spray ainda. E lá se foram os quatro temerários subversivos para a noite, um professor, um jornalista e dois estudantes, executar sua nobre missão. Nos muros, escreveriam denúncias contra os ditadores Castelo Branco e Costa e Silva, um estava passando o bastão para o outro, mas a ditadura era a mesma.
Poucos dias antes eu havia visto no cinema Paissandu, templo de cinéfilos no Flamengo, Trinta Anos esta noite, o impactante clássico de Louis Malle em preto e branco, interpretado por Maurice Ronet. Um intelectual pequeno-burguês (o enquadramento nosso era este), depois de internado numa clínica para tratamento de depressão e alcoolismo, termina uma longa jornada no dia de seu aniversário, matando-se em seu quarto com um tiro no peito.
Saímos do cinema, dois casais de namorados, e sentamos para conversar no bar do Paissandu, acabrunhados com o desfecho daquele tiro, que simbolizava uma desistência, uma confissão de fracasso. E nos confrontava com um ato radical de exercício do livre-arbítrio, do qual havíamos conscientemente abdicado, por força das circunstâncias, vinculando nossas vidas a uma causa política e revolucionária. Enchemos a cara e a paciência de nosso amigo garçom, o cearense Toba.
Alojados dentro do Gordini, fomos em frente, começamos a mandar ver. Uma dupla descia com os bastões caprichando nas letras, outro ficava de segurança e o motorista mantinha o pé enfiado no acelerador. Logo se viu que Pitota possuía a melhor caligrafia, embora Aurelinho fosse filho do homem que virou sinônimo de dicionário. Mas ele já adiantara que o velho Aurélio não gostava de brincadeiras com as palavras nem de falar palavrão.
Na praça Mauá, um guarda de segurança deu o grito de alarme e puxou a arma. O Gordini manobrou rapidamente e disparou. Demos algumas voltas para despistar e entramos na área dos armazéns do velho porto, na Rodrigues Alves. Na quarta parada, a dupla não conseguiu concluir a frase, Do outro lado da pista um policial começou a atirar. O bastão ficou pelo chão e as balas zuniram pelo espaço.
Na reta final pudemos trabalhar com calma na área do cemitério do Caju e início da avenida Brasil, com seus paredões imensos à espera de nossa reluzente tinta preta. Mais de duas da madrugada, tensões aliviadas, demos a tarefa como cumprida. Quem fumava acendeu um cigarrinho. Pitota assobiou e lembrou-se da cena final de O Salário do Medo. Ives Montand, assobiando e dirigindo seu caminhão carregado de nitroglicerina, que vai despencar num precipício. O Gordini virou em direção à Zona Sul.
No início do Aterro do Flamengo furou um pneu, rapidamente trocado. Tínhamos pressa para um ponto de segurança no Beco da Fome, na Prado Júnior. O sartreano Guilayn nos esperava para festejar. Passando embaixo da grande passarela de pedestres, na curva do hotel Glória, alguém teve a luminosa ideia de fazer ali a consagração da noite, uma pichação que seria vista de todos os carros e ônibus que viessem da Cidade. Ainda que não fosse nossa área e nem unanimidade, mãos à obra. Dois sobem na passarela e dois ficam de segurança.
Logo ouvimos o ranger dos pneus de um jipe freando e um tropel de botas no asfalto. Saímos correndo e os PMs atrás começaram a atirar. Mãos à nuca, fomos levados para o carro. “O que vocês estavam fazendo?”, perguntou o cabo cabreiro, pensando em alguma maluquice. Começaram a descobrir quando encontraram os bastões, mas o crime ainda não era político.
Na delegacia do Catete o delegado entendeu que o problema não era de sua alçada. Os quatro assustados rapazes foram colocados num camburão e conduzidos ao DOPS, com o dia já clareando. Vazio, o velho prédio estava sossegado. A repressão vivia uma fase intermediaria, transitando do pós-golpe de 64 para a era das porradas de 68 em diante.
Previ o pior dos mundos. Era repórter da editoria Política do Jornal do Brasil, cobria o Palácio do governo estadual. Negrão de Lima, o governador, era uma de minhas fontes de conversas diárias. O que vai dizer o gentleman do Negrão, o que vão dizer no JB? Para um repórter preso em flagrante delito, expondo sua vida dupla, minha carreira de escriba poderia ter terminado.
O trio que comandava a redação do JB, Alberto Dines, Carlos Lemos e Luiz Orlando Carneiro me tratou com extrema elegância. No dia que vesti meu terno e voltei à redação, caminhei ao seu encontro com uma cara temerosa de quem ia ouvir um “sinto muito, mas estamos numa ditadura.” Fui informado que deixaria o Palácio e passaria para a editoria de Cidade. Iria para as ruas, cobrir Trânsito. Fiquei no JB mais 4 anos, até ser preso novamente.
No árabe do Beco da Fome, Jorge Emilio Guilayn, a esta altura, já havia virado a saideira e saído à procura de um advogado. Já com advogados em cena, fomos chamados a depor, um a um, na sala do delegado da Ordem Política e Social. Contamos a mesma história, parte verdadeira, parte inventada. Fomos ao cinema Paissandu ver o filme do Louis Malle. O escritor se mata. Saímos abalados para bebericar e encontramos o pacote com os bastões embaixo de uma mesa do bar.
No dia seguinte, tive uma baita surpresa ao iniciar um novo depoimento. Lá estava o garçom assustado, me aguardando para uma acareação.
- Você conhece este homem?, perguntou o delegado. – Sim, disse o Toba, é freguês da casa. Confirmou que me vira numa mesa discutindo com os amigos. Sem a via da intimidação e da tortura, foi o que prevaleceu. Papeis assinados, os quatro rapazes transbordantes de alegria deixaram o velho prédio da rua da Relação, que guarda muitas histórias de horror.
*Jornalista e escritor