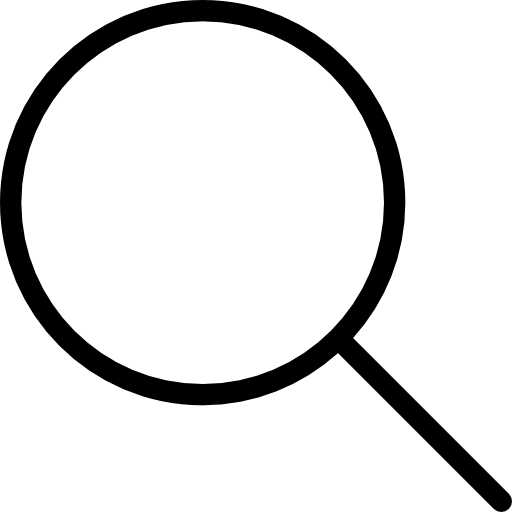ENTRE REALIDADE E FICÇÃO
Vila impôs o silêncio à brutalidade de seus algozes
Publicado em 20/01/2022 às 13:45
Alterado em 20/01/2022 às 18:24
 Álvaro Caldas JB
Álvaro Caldas JB
Vislumbro um homem agachado, procurando com dificuldades algo no chão. Me dei conta de que não percebi sua entrada. Dobra o corpo e arrasta as mãos pelo piso en-cardido em sua busca. Talvez seja míope. Com a aflitiva sensação de estar diante de uma alucinação, pergunto o que procura, e ele diz “meus óculos, tenho certeza que ficaram aqui”. Ao se colocar de pé, vejo um homem franzino, vestido com simplicidade, o bigo-de traçado numa linha tênue, ares introspectivos de um intelectual.
Tem a pele muito clara, de quem não está acostumado ao sol. Sua fisionomia me faz lembrar a de um homem que conduzi uma noite em meu fusquinha vermelho, numa viagem perigosa. Com a visão inteiramente ofuscada pela cerração, fui obrigado a man-ter o pé no freio e a usar luz alta o tempo todo. Estávamos saindo de uma casa na região serrana do Rio, depois de uma reunião que durou todo o dia. Durante a descida, fizemos perguntas cautelosas um ao outro. Deixei-o num largo perto de sua casa, no subúrbio do Rio. Vila era seu nome de guerra.
A memória, sempre a memória. Nessa segunda vez em que o encontro, estou de-soladoramente imerso em minha solidão, sentado num colchão roto, quando sou surpre-endido por uma inesperada visita. Dias antes, eu fora vítima de um sequestro e arrastado para essa casa sombria. No pequeno quarto em que fui jogado, usado para interrogatório de prisioneiros, o visitante me olha e dá sinais de me reconhecer. Balança a cabeça em torno e pergunta se eu havia sido seu motorista numa tensa noite de nevoeiro.
Em seguida, indaga se sabia que ele havia sido massacrado nesta cela, no final do corredor do andar térreo, com uma luz azulada na parte superior da porta de entrada.
Já transcorreram três anos, isso se passou no dia 16 de janeiro de 1970, quando fui preso no início da noite numa esquina do bairro de Cascadura, aguardando a chegada de um companheiro, diz o misterioso viajante. “Estava parado num ponto, desarmado e sem nenhum documento. Os agentes me reconheceram de imediato e fizeram uma ruido-sa festa para comemorar. Fui trazido para cá. Entrei aos berros e empurrões, levando pontapés. Um soco me atingiu o rosto e os óculos voaram. Nunca mais os recuperei.”
Digo-lhe que conheço partes de sua história, sabia que ele se calou, impondo a derrota aos torturadores com a superioridade moral de seu silêncio. Vila ergue a mão direita espalmada e diz que os militares que o mataram, a serviço do Estado terrorista, deram sumiço a seu corpo. “Sou um desaparecido político, um fantasma, angustiado com o sofrimento de minha filha, Lucinha, e de meu neto, Léo, compositor e professor de violão. Gosto de suas músicas. Jamais desistiram de me procurar, ao lado de outros amigos. Vestem camisetas com minhas fotos”.
Não sei o que falar. Balbucio, talvez para mim mesmo, que o silêncio é uma arma mortal durante a tortura. Pergunto-lhe se conheceu o psicanalista Hélio Pellegrino, autor de um ensaio sobre a ruína e a humilhação que se passam numa sessão de barbárie. Se-gundo ele, tortura é a expressão tenebrosa da patologia de um sistema social e político, que visa à destruição do ser humano.
Quando o torturado permanece em silêncio, uma situação inimaginavelmente di-fícil, entre a vida e a morte, ele afirma sua integridade de pessoa pela realização de um valor supremo. Que pode lhe custar a vida.
Para minha surpresa, vejo Vila descontrair-se pela primeira vez. Aproxima-se do colchão em que estou sentado e quer saber se estamos no verão. Com a voz baixa, para que os homens que transitam pelos corredores não o ouçam, diz que vai me contar um segredo. “Tive dois encontros com o Hélio. Num deles, almoçamos no Bar Brasil, antigo restaurante na Lapa, com as mesas forradas de toalhas brancas. Conversamos sobre psi-canálise e marxismo, política e literatura, ao contrário do que enfrentava nas cansativas reuniões partidárias.”
Naquela tarde bebemos chope e degustamos um Steinhaeger. Soube que o Hélio atendeu alguns de nossos meninos e meninas em seu consultório. Para mim, não servia, eu já tinha a cabeça feita, mais de 30 anos de militância, um leitor abnegado na clandes-tinidade. Gostava dos russos, mas não sobrava muito tempo para ficção. Dediquei-me a estudar com persistência a realidade brasileira, este país de uma desigualdade social ina-ceitável...
Sua frase não termina. Antes de sair, piscando os olhinhos miúdos, o desapareci-do Vila lembra-se de me pedir para não esquecer de seus óculos, que lhe fazem muita falta. Ele caminha a passos lentos, cabeça erguida, com a consciência de um revolucioná-rio que não se submeteu a seus algozes, com a determinação e as forças de sua mente e seu corpo. Sabe que numa sessão de suplícios o torturador não se contenta com a rendi-ção do torturado. Almeja apossar-se de sua alma e tornar-se dono de sua voz, para trans-formá-lo num delator.
O baiano Mário Alves de Sousa Vieira, o Vila, jornalista, líder político, militante comunista histórico, um intelectual respeitado por seus múltiplos conhecimentos, é um personagem à procura de um autor. Foi o primeiro preso político assassinado pela ditadu-ra no quartel do 1º Batalhão de Polícia do Exército, Rio de Janeiro. Depois de 8 horas sangrando, o corpo revirado, perfurado, chutado, dependurado, afogado, recebendo choques elétricos e empalado, confirmou aos seus carrascos o que já sabiam: seu nome e o posto de secretário-geral do Partido. Às vezes dizia, sarcástico, “Vocês já sabem”.
Segundo denúncia do Ministério Público Federal, os tenentes Luiz Mário Correia Lima, Dulene Aleixo Garcez e Magalhães; o capitão Roberto Augusto Duque Estrada, o major Valter Jacarandá e o inspetor Thimóteo de Lima, participaram dos atos de seques-tro e tortura. Três deles acompanharam, na manhã do dia 17, a condução do corpo para o Hospital Central do Exército. Podem dizer se o cadáver do desaparecido Mario Alves foi jogado no mar ou enterrado num cemitério clandestino.
Em 1970, na rua Barão de Mesquita, quartel-general do Doicodi, cidadãos brasileiros gritaram de agonia e dor sem que fossem ouvidos. Militares responsáveis pe-los crimes foram anistiados. As instalações continuam no mesmo lugar. O Exército se recusa a atender pedidos das comissões da Verdade para seu tombamento e transforma-ção num Museu da Memória, que poderia receber o nome de Mário Alves, desaparecido aos 47 anos, no dia 17 de janeiro de 1970. Há 52 anos, completados agora.
*Jornalista e escritor