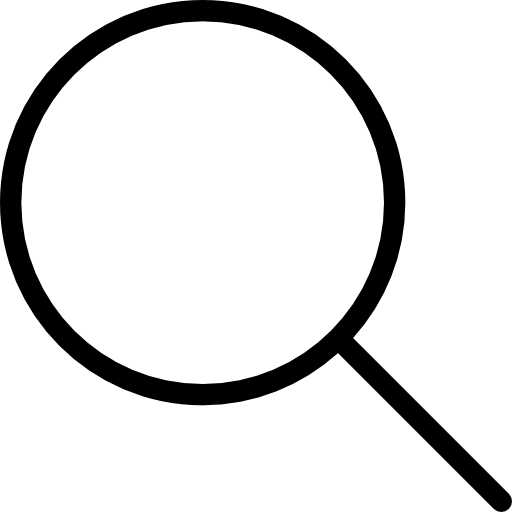ENTRE REALIDADE E FICÇÃO
Quando o jornalismo deixa de fazer História
Publicado em 10/06/2021 às 13:38
 Álvaro Caldas JB
Álvaro Caldas JB
O jornalista lida com a história em seu cotidiano. Lembrei-me de que dizia isto aos meus alunos da PUC-Rio numa aula em que tratava de Jornalismo e História. O bom jornalismo se caracteriza e se distingue por ter uma relação direta com a história do país, por fazer um registro do acontecimento ainda quente e palpitante. Com emoção, mas com a isenção possível.
Muitas vezes estamos fazendo história sem perceber. Outras vezes deixamos de fazer, quando o jornalismo não esta à altura dos fatos que lhe cabe registrar. Por sua repercussão no futuro, a omissão é o mais grave dos pecados.
Lembrei-me destas aulas ao sair para tomar a segunda dose da vacina, semana passada. Dei de cara com pessoas silenciosas, com os olhos fixos em seus celulares, perfiladas diante de agências de bancos e do posto de saúde de Copacabana, O estupor, ou a indiferença, escondidos por detrás das máscaras.
Entre nós, invisíveis, a nos assombrar, meio milhão de cadáveres dependurados nos postes. De um lado e de outro, corpos estendida nas calçadas, lojas de portas cerradas, avisos de que as ruínas se acumulam.
Sinais que se juntam aos que estão expostos com gravidade nas manchetes dos jornais, na banca da esquina. Palavras como boicote, Copa da Covid, perdão a Pazuello desmoraliza Exército, Queiroga mente na CPI - os títulos destacam o caos político e institucional. Numa página dobrada, Bolsonaro é desmentido por um tribunal, contas secretas são investigadas. Em corpo menor, PF pede prisão de Salles, Caboclo quer saber se sua secretária se masturba. Literalmente, não há outra maneira de expressar essa algaravia senão usando o popular “tocou o foda-se”.
Me aproximo da banca com o cuidado de manter a distância e leio a chamadinha de pé de página do texto de um articulista: “O Estado nos vigia todo o tempo” A seu lado, num jornal popular formato tabloide, uma colunista que se identifica como advogada e diretora da OAB adverte sobre a fragilidade da democracia. Alerta contra a continuidade da tortura e ocultação de cadáveres. Por fim defende o uso da memória e da verdade como armas de resistência contra os opressores.
Já na fila da vacina, o repórter sente-se atemorizado com o destino do país, a um passo de entrar novamente num daqueles becos sem saída. Quem sabe uma grande reportagem de investigação poderia sacudir a cena e virar o fio da história? O jornal tem esse poder. A sensação de medo torna-se mais aguda nestes momentos. Lembra-se de que sentiu-se assim nos meses que antecederam a instalação da ditadura em 1964. A corda esticada ao máximo, numa tensão que vai se tornando exasperada.
A contribuição da imprensa foi decisiva para o golpe militar empresarial de 1964, como também para o impeachment de Dilma Rousseff. A adesão incondicional dos grandes veículos fez avançar a conspiração e impulsionou os tanques golpistas em sua marcha para derrubar o governo constitucional de Jango Goulart. Nos tempos de Bolsonaro a cobertura torna-se superficial, condescendente, limita-se a um registro dos fatos com o poderoso uso da ênfase ou da omissão como instrumentos de manipulação.
Tudo bem feito na edição, o leitor não percebe.
Trata-se de uma imprensa que toma partido. Acima da isenção e da imparcialidade, estão os interesses de classe. Outra coisa é o trabalho do repórter. Um aspecto significativo da atividade jornalística é este, o de fazer história, de ser um testemunho da história. Desde que se inventou a imprensa que o repórter passou a ser um figurante. Em alguns casos ele até entra para a história. Vira parte dela.
“Dez anos que abalaram o mundo”, de John Reed, repórter americano que cobriu de Petrogrado a revolução soviética de 1917, tornou-se um clássico de reportagem. Reed entrou em assembleias e viajou em trens lotados de soldados, ao lado de Trotsky e Lênin. Agiu com a liberdade de um repórter. Não se submeteu à linha do jornal. Fez uma grande reportagem, considerada precursora do jornalismo moderno.
E uma terceira coisa é o trabalho dos colunistas, que têm o direito consagrado de manifestar suas opiniões. É importante para a credibilidade dos veículos manter o contraditório. Com a agressividade das ações de Bolsonaro rumo a um governo miliciano e militarizado de extrema direita, acelerando os passos para a volta do voto impresso, colunistas deixaram as meias palavras e estão indo aos fatos. Ou se qualifica e enfrenta a besta, ou se assiste passivamente a abertura das portas para o inferno.
Marilene Felinto, escritora e jornalista que assina coluna na Folha Ilustrada, intitulou de “Terceira onda de tortura” a última que publicou. No subtítulo, pergunta: “O que falta para derrubarem o governo assassino de Bolsonaro?” Antônio Prata, também na Folha, afirma que o país está desabando e que “Bolsonaro passará por cima de quem for preciso para instalar seu projeto miliciano e perpetuar-se em seu gabinete do crime e do ódio.”
São dois exemplos de fala direta, de papo reto como se diz. Elio Gaspari escreveu que a anarquia tomou conta dos quarteis. É urgente a devida responsabilização do criminoso. Antes que sejam obrigados a publicar notícias fabricadas pelo DIP bolsonariano, os jornais devem assumir um compromisso em linha com a história e a democracia. Na ditadura, os mais corajosos, com o Estadão, publicaram versos de Camões e receitas de bolo no lugar de notícias censuradas.
É chegada a hora de tirar os repórteres do limbo e soltá-los nas ruas. Dar tempo, liberdade e recursos para que gastem a sola do sapato, apurem e escrevam suas reportagens. Ao mesmo tempo sente-se nas ruas uma aparência de normalidade. De um lado há os fanáticos, dispostos a matar, em número maior do que jamais se pensou. E há os indiferentes, calados, deixando a impressão de que para uma parte dos brasileiros isto que está aí está de bom tamanho. Será?
*Jornalista e escritor