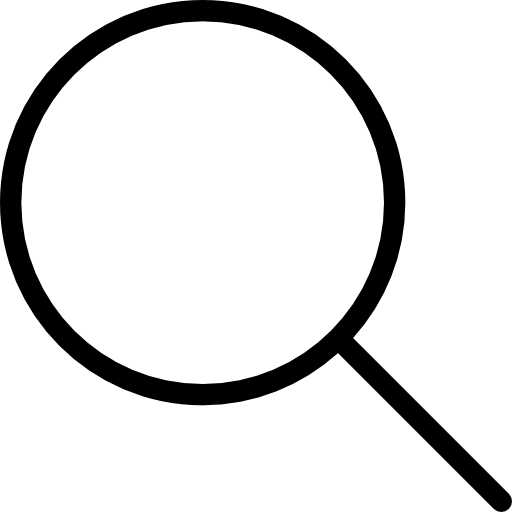ENTRE REALIDADE E FICÇÃO
No emaranhado dos fios de uma teia de aranha
Publicado em 20/05/2021 às 12:45
Alterado em 20/05/2021 às 12:45
 Álvaro Caldas JB
Álvaro Caldas JB
Tempos de dispersão, de uma certa confusão mental, de vozes e imagens de trens entrando e saindo de estações, uma verdadeira algaravia. Escrevo pensando nas pessoas de cabelos brancos, a maioria já vacinada ou perto da segunda dose, que costumam esquecer o que acabaram de fazer e zanzam pelos corredores do apartamento sem saber se pediram o almoço, se desligaram o gás, onde deixaram a toalha ou os óculos. São conhecidas como integrantes da uma geração que se rebelou. Neste inverno que se aproxima, tempo propício a recordações, ao uso intensivo da memória, ao silencioso trabalho de uma aranha, chegou a vez de lembrar o maio de 68, da passeata dos cem mil e da anistia, que custou tanto esforço e ficou pela metade, premiando os torturadores.
Amigo meu foi se queixar com a analista de que não conseguia se concentrar em suas leituras. Dormir já era penoso, agora mais este desconforto. Lê as primeiras páginas de um livro e logo se entedia, vai procurar outro. Nenhum retém sua atenção. Ouviu dela que é isso mesmo. Nove entre dez de seus clientes virtuais estão manuseando livros sem fixar atenção. Não existe mais o livro de cabeceira.
Há um fenômeno de dispersão, diverso de outro, completou a analista sem ser indagada: o sumiço do sexo dos consultórios. As conversas tornaram-se assexuadas, se é que se pode afirmar isso sem contrariar meio mundo, em especial Freud e Millôr Fernandes, pelo menos. Um pelos sagrados princípios da psicanálise. O genial humorista, autor e tradutor, porque registrou não ter conhecido ninguém que não tivesse a obsessão do sexo, conforme charge publicada na revista Pif-Paf dos anos 1960.
Disse a meu amigo que estou lendo ou relendo vários autores simultaneamente. Pego e largo, sem me fixar. Entre eles, busco os que fazem a ultrapassagem da realidade, com menos verossimilhança. A ficção permite ultrapassar a simulação de realidade que nos é mostrada todos os dias. Basta a violência da cena real reproduzida pela TV e impressos, dominada por um cafajeste de botas niilista, boquirroto e de extrema direita. Dou preferência aos autores que já me deram prazer, embora possa abandoná-los no início da jornada.
Entre eles o espanhol Jorge Senprum (1923/2011) de Um belo domingo, passado no campo de Buchenwald. Mas o livro dele que quero falar é A Algaravia, seu último romance publicado, uma revisão meio real meio inventada de sua agitada vida de intelectual e ex-militante do PCE, vivendo no exílio ou clandestino em Madri, com o codinome de Federico Sanchez, que se tornou famoso. Em Algaravia escolheu o nome de Rafael Artigas, um escritor espanhol exilado na França, habitante de um tempo histórico fictício, para ser ele mesmo, Semprun. Escrito como se fosse o painel de uma grande algaravia, narrando suas aventuras políticas e existenciais em tempos diversos.
Em determinado momento, o narrador coloca uma questão crucial que tudo mudaria: o que poderia ter sido a História se os eventos de maio de 1968 tivessem evoluído gloriosamente? Seria o poder, com todo o exercício de sua brutal perversão? Posta esta questão, resta partir para a ficção e reescrever a história, povoando-a de outros sonhos, desejos e esperanças, que não vieram.
As pessoas seriam felizes, bem alimentadas e educadas? O branco respeitando o preto, todos os gêneros na mesma gaiola sem brigas? Não haveria o exílio, as prisões, os tribunais, a tortura, as mortes, a anistia. Como seria a literatura, realista e dogmática? Os jovens líderes que tinham tantas certezas e poucas dúvidas, no poder negariam suas raízes, eliminariam os divergentes, mandando para os cárceres os rebeldes e dissidentes? Maio de 68 foi o momento culminante e mágico de uma utopia que não deu certo.
Em nova tentativa de abraçar um livro e dormir com ele, abro o recém-lançado Vista Chinesa, romance de Tatiana Salem Levy, já consagrada por A chave da Casa. A violência do ato de violação do corpo de uma mulher, estuprada com requintes durante um assalto. O impacto do real posto diante dos olhos do leitor, narrado em toda sua subjetividade. Tatiana é filha de Helena Salem, jornalista, falecida, e Nelson Levy, filósofo, amigos dos anos 60, que entram nesta rede de fios tecidos pela aranha, que este texto vai interligando.
Trata-se de uma geração que ficou marcada, a de meia oito. Seus integrantes acabam de divulgar uma carta aberta e uma proposta de voltar às ruas em grupos, se as condições sanitárias permitirem, lembrando a passeata de 100 mil, que faz 53 anos no próximo dia 26 de junho. As faixas serão outras. O abaixo a ditadura será substituído por fora Bolsonaro, abaixo o genocídio, a miséria e a fome. Haverá uma semana de debates e conversas nas redes, sobre memória, verdade, justiça e os limites da lei de anistia.
Neste momento em que a democracia está de novo ameaçada e todos estamos trancados, a hora é boa para fazer um balanço, uma espécie de inventário real e subjetivo de uma geração que começou a vida adulta com projetos de transformação radical na América Latina e no mundo, enfrentando sangrentos golpes militares, com as armas da luta de classes e das utopias. Que conheceu a tortura, a morte e o exílio. E que não se considera vítima de porra nenhuma. Levada pelos ventos da história enfrentou porque desejava mudar o seu curso, sabendo dos riscos que corria.
Roberto Bolaño, o grande escritor chileno, integrante desta turma, disse que seu livro Os detetives selvagens, um balanço das descobertas e incertezas destes jovens, é “uma carta de amor para minha geração”
*Jornalista e escritor