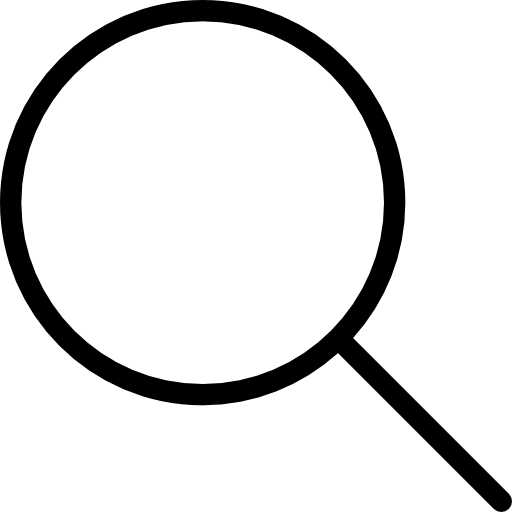ARTIGOS
O dia em que todo mundo lembra onde estava
Por MARIA CLARA BINGEMER
[email protected]
Publicado em 16/04/2024 às 10:41
Alterado em 30/04/2024 às 19:17
Há dias e momentos na vida que nos marcam para sempre. Aqueles momentos em que todo mundo se recorda de onde estava e o que fazia. Assim foi para mim em algumas ocasiões.
Por exemplo, quando o presidente Getúlio Vargas se suicidou no Palácio do Catete. Corria o ano de 1954 e eu tinha cinco anos de idade. Mas aos meus ouvidos interiores ressoa até hoje o grito de meu avô de ouvido colado ao rádio: “O Getúlio suicidou-se”. E minha avó, compadecida: “Ah, coitado do velho”. Muito mais tarde fui entender mais o que significou aquela bala que penetrara o coração do presidente, desferida por mão própria. E as circunstâncias que o levaram a “sair da vida para entrar na história”;
Em 1963 eu tinha 14 anos e estava em casa, em meu quarto, estudando. Ouvi o telefone tocar e minha avó atender. E depois suas perguntas aos gritos: “Não é possível. O Kennedy? Um tiro?” A televisão pouco depois passou a mostrar as imagens do belo e jovem presidente em Dallas com a primeira-dama elegante e toda vestida de cor de rosa. E depois o sangue que cobria o interior do carro aberto no qual percorria a cidade texana e o tailleur Chanel cor de rosa de Jackie todo ensanguentado. Em minha casa Kennedy era admirado e venerado. Presidente católico, pai de família, três filhos etc. etc. Posteriormente os etc. apareceram maiores do que a narrativa oficial. E soube-se de seus casos infinitos, das traições pessoais e públicas. E foi Marilyn Monroe, e foi Vietnam e mais que apareceu desvelando a ambiguidade do jovem descendente de irlandeses, louro e concentrado, rezando devotamente na catedral de Saint Patrick.
No dia 1 de abril de 1964 eu tinha 15 anos. Criada em família anticomunista e lacerdista, cercava-me o medo de que o presidente João Goulart levasse o Brasil ao comunismo. Como antes já se temia quando Jânio Quadros, presidente ao qual sucedera, condecorara o revolucionário cubano Ernesto Che Guevara. Assim, quando as tropas do General Mourão chegaram ao Palácio Guanabara e a Revolução ali se instalou, participei dos festejos que celebravam o Brasil livre do perigo comunista.
No colégio participava de movimentos estudantis como a JEC e aprendia sobre os kibutzim em Israel. Começava a me abrir para as questões sociais e políticas. Mas ainda acompanhei minha mãe e minha avó nas marchas pela família antes do dia 1 de abril daquele ano, acreditando que os comunistas acabariam com a religião, com a Igreja e com tudo aquilo em que acreditávamos. Naquele dia de 1964 em minha casa o clima era de vitória e eu participei da festa.
O tempo passou e o presidente Castelo Branco morreu em um obscuro acidente de avião. Atravessei os estudos clássicos, que eram o ensino médio da época vendo militares sucedendo-se na presidência da República. No cursinho pré-vestibular, o querido e recordado Professor Manuel Mauricio nos ensinava uma outra história, diferente da oficial que como meninas de colégio tradicional aprendêramos. Entrei na universidade no ano de 1968. E outro mundo se apresentou diante de meus jovens olhos.
A polícia contra os estudantes na rua. Nós do grupo de teatro do departamento de Comunicação Social ensaiando a peça “Os pequenos burgueses” no teatro Ginástico vendo tudo pela janela, com medo de sair. O jovem Edson Luis assassinado no restaurante Calabouço. O AI 5 proclamado. Nós com medo na universidade. Medo de falar, de sair, de conversar. Cada interlocutor podia ser um delator e as salas de aula eram terrenos minados.
Nunca esquecerei o dia em que levaram minha grande amiga que era presidente do Diretório Central dos estudantes. Ela andava sumida, comprometida na militância. Um grupo entrou na sala de aula e comunicou que havia sido presa. As recordações do dia 1 de abril de 1964 tomaram outro viés e outro rumo e começaram a ser lidas em outra chave.
Não era revolução, era golpe. Não era libertação de um perigo, era arbítrio. Não era defesa dos valores em que acreditávamos. Era pisoteamento da liberdade e agressão aos direitos humanos. Naquele longínquo dia eu me lembro onde estava. Mas a partir daí passei a estar e situar-me em outro lugar.
Hoje, 60 anos depois, vejo que as lutas e opções nas quais se comprometiam tantos colegas, companheiros e professores eram justamente pelos valores do Evangelho no qual acreditava. Eram pela justiça, pela liberdade, pela igualdade e dignidade. Em 1977, grávida de minha terceira filha, fui trabalhar na Conferência Episcopal, em sua sede da Glória. Ali presenciei maravilhada minha Igreja denunciando as torturas e a violência, ajudando jovens do movimento estudantil do Brasil e de outros países como Chile e Argentina a exilar-se na Europa. Os bispos eram a única força que fazia frente à ditadura militar.
Naqueles anos ainda de chumbo nasceu minha vocação teológica. Hoje, a teologia que faço e que penso traz a marca daquela segunda conversão a uma fé adulta e comprometida. E aqui estamos, hoje, procurando a fidelidade às opções fundamentais apesar das ambiguidades e das eventuais infidelidades. Aqui estamos chamando as coisas pelo nome. Aqui estamos procurando somar nossa luta à luta de todos que desejam um país livre da pobreza e da desigualdade que o impedem de levantar a cabeça. Que a experiência desses 60 anos continue nos ensinando a declinar o belo e sempre tão ameaçado alfabeto da democracia.
Maria Clara Bingemer é professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio e autora de “O mistério e o mundo: Paixão por Deus em tempos de descrença” (Editora Rocco), entre outros livros.