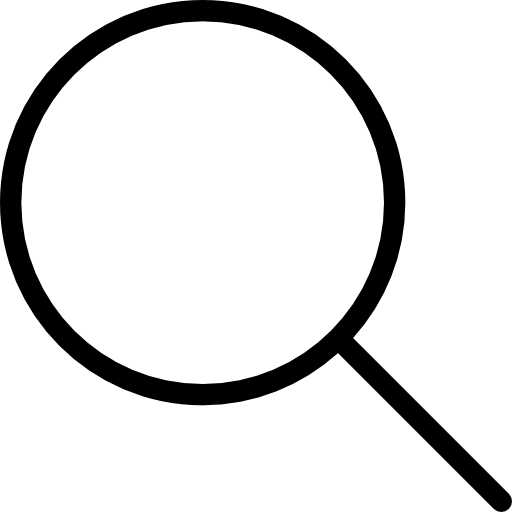ARTIGOS
Uma reflexão sobre a hegemonia norte americana no audiovisual
Por CAROL BASSIN
Publicado em 18/03/2024 às 18:07
Alterado em 18/03/2024 às 18:07
No último dia 10 de março, assistimos, sem grandes surpresas, a 96.ª cerimônia de entrega dos “Academy Awards”, também conhecido como Oscars 2024. Contemplar o favoritismo de “Oppenheimer”, obra que conta a saga do físico J. Robert Oppenheimer responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica, e que conquistou nessa noite sete estatuetas, dentre elas a de melhor filme, trouxe, para muitos, a estranha sensação de “já ter visto esse enredo”.
Sem entrar no mérito da qualidade em si da obra e silenciando qualquer sussurro do lado técnico da mente que insiste em justificar esse favoritismo, fica um questionamento: seria essa a melhor narrativa do mundo do cinema em 2024? E por falar em mundo, que extensão, de fato, está sendo considerada?
A resposta é simples: basta observar a nomenclatura dada à categoria que contempla os filmes não norte-americanos: “Melhor filme internacional”. Sim, para o Óscar, conhecida por muitos como a “mais importante” celebração do cinema, teria-se os Estados Unidos de um lado e o resto do mundo de outro. E desde quando surgiu essa linha imaginária (mas milionária!) que divide o império de Hollywood do restante do mundo?
Se considerado o contexto histórico, é possível localizar no período pós Segunda Guerra Mundial um importante marco inicial dessa trajetória de dominação comercial do cinema norte-americano. Sendo uma das poucas potências ocidentais que chegou ao final da Segunda Guerra com reservas financeiras, os Estados Unidos aproveitaram esse momento histórico para figurar como um dos maiores financiadores da reconstrução de importantes países, tendo como uma das principais moedas de troca a garantia de espaço nas salas de cinema destas regiões.
Desejo de comunicar a arte ou uma tática brilhante de dominação cultural e econômica? Aliando essa estratégia a um massivo investimento nacional nas grandes produções e estúdios, o mundo assistiria em poucos anos a uma explosão de conteúdo norte-americano em suas telas e de produtos licenciados em suas lojas e prateleiras. E, aos poucos, o “American Way of Life” se tornou um referencial utópico de prosperidade, sucesso e satisfação.
Para além dessa “herança cultural”, tida justificadamente como predatória, fica ainda de legado dessa “empreitada de sucesso”, duas importantes constatações: (i) entretenimento gera renda e vale o investimento estatal e (ii) espaço de tela é reserva nacional e deve ser defendido e preservado.
O país que inquestionavelmente já demonstrou ser mestre nesse aprendizado é a Coreia do Sul que, com o seu investimento público expressivo na produção de conteúdo audiovisual nacional, tem exportado para o mundo não só filmes, séries e doramas, mas a sua própria cultura; fazendo com que uma geração inteira consuma bens e produtos que refletem, fortalecem e financiam os seus valores nacionais.
E aqui no Brasil, já que o tema é Oscar, vale sempre lembrar que um país que é berço de talentos como o de Fernanda Montenegro, não pode recuar diante da necessidade de se posicionar diante do mundo como um dos principais polos de criação e consumo da sétima arte.
O fortalecimento das políticas públicas de fomento ao audiovisual e defesa de nossas janelas de exibição é um dever do Estado e passa pela necessidade prévia do entendimento estatal de que o setor do audiovisual é uma indústria criativa que gera não só conteúdo, mas renda, tributos e emprego e, como tal, deve ser regulada, protegida e incentivada pelo poder público.
Para o Brasil reconhecer-se como uma potência no audiovisual, acima de qualquer categoria, é e será o nosso maior prêmio. Para esse objetivo, nossos melhores aplausos.
Carol Bassin, Advogada especializada em propriedade intelectual, legislação de incentivo e proteção autoral.