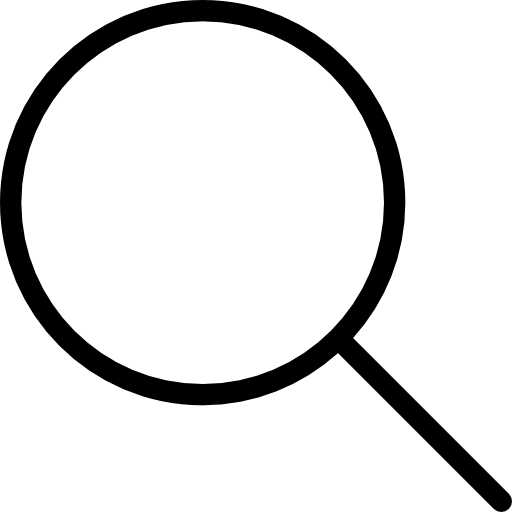ARTIGOS
A pandemia e uma estranha língua universal
Por RICARDO A. FERNANDES, [email protected]
[email protected]
Publicado em 21/10/2021 às 18:50
Era novembro, já faz alguns anos. Na sala de desembarque, o país se apresentou com o som estridente dos fiapos de tecido plastificado que roçavam o metal nas laterais da esteira de bagagem. Nada das malas. As placas informativas, com mensagens em cirílico, tampouco ajudavam. Talvez estivesse em outro país do leste europeu, tenha entrado no avião errado. Após intermináveis minutos, as malas surgiram.
A belíssima Moscou à noite e o banco aquecido do carro atenuaram a impressão cadavérica do vento gelado no nariz e orelhas. Mas os hotéis estavam lotados e, por conta disso, o pessoal da firma havia reservado uma acomodação num local distante, com banheiro coletivo. Soube disso ao falar com a recepcionista que, com um inglês arrastado e sem muita vontade de se fazer entender, não me deixou com outra opção a não ser pegar a chave do quarto. O banheiro coletivo não seria problema se os corredores da hospedagem tivessem aquecimento. Nos dias seguintes, sair do tal quarto à noite era um grande desafio.
Fiquei alguns meses na cidade. Em pouco tempo, aluguei um apartamento. Fiz amigos moscovitas com quem converso até hoje, passada mais de uma década. Tenho ótimas lembranças do período. Mas a percepção de desamparo das primeiras horas no norte do mundo permaneceu alojada em algum canto da memória.
Nos últimos meses, a vacinação avança e a vida fora de casa, aos poucos, volta a acontecer. Ando na minha cidade natal e tenho a impressão de estar em terra estrangeira. Os nomes das ruas me dizem onde estou. Mas, nas calçadas, sombras de novas construções de metal e vidro cortam os passos dos pedestres. Edifícios se ergueram ligeiros como foguetes da antiga CCCP, regados pelo dinheiro da especulação imobiliária. Não reconheço a paisagem. Volta a lembrança do desamparo gelado na Rússia. Que se esvai em instantes, pois devo me concentrar em desviar dos buracos no asfalto, velhos conhecidos.
Na volta para casa, paro num bar. Peço um lanche e me esforço para ouvir a voz por trás da máscara do atendente. Ele me pergunta algo. Não compreendo. Evito prolongar o assunto e concordo com um movimento de cabeça. Espero não me arrepender ao receber o pedido. Tenho a impressão de que me comunicava melhor na gelada capital do Norte do que a três quarteirões da casa onde vivi a infância.
Duas mesas à direita, sem máscara, um casal discute sobre quem deve lavar a louça. Ouço que o combinado, após demitirem a funcionária da residência, era um revezamento da tarefa. Pelo jeito, o assunto vai longe. Próximo ao balcão, um rapaz pede esmolas. Está sem serviço. Diz não ter o que comer, que sua esposa também perdeu o emprego, enquanto ouve a discussão do casal. Seriam os antigos patrões da sua companheira? O atendente não dá margem a conversa. No bar, todos falam em português, mas parecem ouvir outra língua. Não há espaço para diálogo.
Chego em casa, ligo o computador. Leio a notícia de que as redes sociais, ao incentivarem o ódio, ganham engajamento. O único compromisso é com a repulsa ao outro, esse o meio de vida atual. A pandemia matou, no mundo, milhões de pessoas. Também por causa dela passamos a conviver virtualmente, afastados de amigos, parentes e colegas de trabalho. Reclusos, desenvolvemos um discurso limitado a poucos caracteres. Com algum esforço, nosso poder de síntese se aperfeiçoará. Até que nos comuniquemos apenas por emojis, numa língua universal. Aqui e na Rússia. Na ausência de palavras, como não se afastar da pessoa ao lado?
Publicitário, escritor e vice-presidente da União Brasileira de Escritores (UBE-SP). Autor do romance “Através”.